“Um novo “idealismo” internacional seria necessário para que a crise do coronavírus fosse abordada com uma visão de experiências positivas.”
Pode ser que a crise do coronavírus seja só uma desaceleração no caminho das dinâmicas internacionais durante as últimas décadas. Quem sabe se, depois de um período de hibernação das principais economias internacionais, a vida volta à normalidade, os planos de estímulo enfrentem o temporal e o mundo volte a ser plano e híper-conectado1. No entanto, o coronavírus pode ser também um ponto de inflexão na era da globalização.
Em qualquer destes cenários, a crise do coronavírus vai forçar-nos a considerar algumas lições acerca das nossas democracias, dos autoritarismos de outros e dos valores das sociedades: sobre a mudança da ordem internacional, em particular desde um plano ideacional; sobre o auge do populismo e os discursos baseados em “o meu país primeiro”; sobre as perspectivas para a cooperação internacional numa ordem global reordenada; e sobre o papel da União Europeia.
1. Democracia, autoritarismo e valores
Pouco antes do confinamento, em que estou a escrever, chegou-me a notícia de que uma das pessoas com quem me havia reunido tinha dado positivo no teste do coronavírus. A notificação não revelava o nome do afectado, mas recomendava redobrar as precauções perante um contacto físico mais que provável. Em nome do direito da privacidade individual, e prevalecendo este sobre o conhecimento colectivo do grupo ali presente (tínhamos ou não dado um abraço?), segui as recomendações das autoridades de saúde, permanecendo um mínimo de 15 dias confinado, algo que rapidamente seria de cumprimento obrigatório devido ao decreto das medidas de confinamento geral.
A maneira como se comunicou o caso demonstra o valor que damos nas nossas sociedades ao direito dos indivíduos e à sua privacidade, algo que contrasta com o tratamento da crise do coronavírus em certos países asiáticos. Alguns atribuem-no a uma diferença cultural de base. As sociedades ocidentais entendem a segurança desde um ponto de vista individual e como mecanismo de protecção dos direitos dos seus cidadãos, enquanto as orientais a entendem como um bem social, e, portanto, subordinado aos interesses da comunidade. Refere-se o confucionismo como a raiz civilizadora por detrás de um comportamento social baseado nos princípios da hierarquia, no respeito pela autoridade, na confiança no Estado, e na subordinação dos direitos individuais em benefício da comunidade.
Na era digital, este tratamento da privacidade tem uma tradução imediata no uso de dados. Na Coreia do Sul, Singapura ou China, os dados fornecidos por telemóveis e outros dispositivos foram utilizados para controlar a população e evitar a expansão do coronavírus. A vigilância digital como mecanismo de controlo, mas também como ferramenta para um fim superior – a saúde da população –, foi, para alguns, objecto de admiração. Pelo contrário, na União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) – paradigma do seu poder regulatório – privilegia a privacidade das pessoas e dos seus dados com uma utilização para fins comerciais, limitando o acesso a terceiros e também às autoridades públicas.
O uso dos dados e, em particular, o debate acerca de se os autoritarismos digitais ou as democracias estão mais bem colocados para fazer face a uma crise como a do coronavírus, estão a centralizar uma boa parte das análises. Este debate é, em certa maneira, enganador. O mesmo uso dos dados e os limites à privacidade foram utilizados tanto por autoritarismos e semi-autoritarismos (China ou Singapura), como por democracias (Taiwan ou Coreia do Sul) e, em democracia, a gestão da epidemia resultou tanto em boas práticas (Coreia do Sul) como em situações-limite (Itália ou Espanha).
O elemento-chave parece ser a eficácia das medidas, mais que o tipo de regime político que as aplica. Como argumentava Francis Fukuyama, a crise do coronavírus pode fazer com que os governos que perdurem sejam aqueles que são percepcionados como eficazes na luta contra o vírus e suas consequências e o nível de confiança que, por estes motivos, lhe outorgam os cidadãos. Neste caso, o tipo de regime (democracia liberal ou autoritarismo) importaria menos que a velocidade com a qual se adoptam soluções para a contenção da pandemia.
Os autoritarismos contam com uma ampla capacidade de reacção, articulação da hierarquia de comando e limitação das liberdades públicas. Também censuram vozes críticas como as do médico chinês Li Wenliang, cujo alerta atempado foi silenciado pelas autoridades por conspirar contra o regime – o qual contribuiu para a expansão global do vírus. As democracias, por sua vez, baseiam-se na deliberação e na capacidade de crítica às autoridades públicas, o que resulta numa melhor seleção de políticas públicas, mas também numa maior lentidão. Esta provém dos mecanismos de checks and balances e a gestão política do trade-off entre critérios sanitários e epidemiológicos e os efeitos económicos negativos do confinamento. A descentralização e coordenação dos diferentes níveis de governo revelaram-se em si mesmas um factor decisivo na gestão da pandemia, algo que é objecto de crítica se se parte de um prisma centralista do poder do Estado.
Menos prometedor é o recurso a factores culturais e civilizacionais para definir o êxito ou o fracasso na gestão da pandemia até hoje, por muito que os valores que ordenam a sociedade sejam efectivamente diferentes em democracias ocidentais ou na Ásia. É a afiliação cultural que está na base da resposta política à crise? Estas explicações recordam as teorias baseadas no choque cultural ou civilizacional de Huntington durante os anos 90, que foram rapidamente postas em questão por diversos motivos.
Primeiro, pela impossibilidade de definir unicamente as civilizações com bases em critérios culturais ou religiosos (existe uma civilização confuciana propriamente dita, se nela habitam múltiplas culturas e religiões?). Segundo, pela utilização da identidade, em vez da política, como factor explicativo do conflito. Terceiro, pela convivência de identidades múltiplas em todas as civilizações, como escreveu Amartya Sen. Quarto, pelo predomínio de conflitos dentro das civilizações, mais que entre elas. E, finalmente, pelo reducionismo cultural a que submetemos as relações internacionais quando obviamos factores (geo)políticos, de segurança ou económicos de maior envergadura, como nos recordava Fred Halliday. Com o passar do tempo, muito provavelmente também atribuiremos o êxito ou fracasso na gestão do coronavírus à eficácia dos governos e às políticas que neste tempo se formularão, independentemente da cultura ou raiz civilizacional dos Estados.
2. Um desafio ideacional à ordem internacional
Apesar da limitação das explicações culturais na resposta a esta crise global, o coronavírus reforçará a mudança ideacional do sistema internacional. No plano material, a mudança da ordem internacional estava bem consolidada ao início da crise. Em 1995, as economias dos sete principais países emergentes, o E7 (China, India, Indonésia, Brasil, Rússia, México e Turquia), representavam um volume equivalente a metade do PIB – em paridades de poder de compra – do G7 (Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Japão, Canadá e Itália). Em 2015, as economias do E7 já eram mais ou menos comparáveis às do G7. Em 2040, o E7 poderia inclusive duplicar o PIB do G7. Em menos de meio século, o mundo sofreu uma severa transformação no âmbito material, e o sistema internacional rege-se hoje pela multipolaridade.
Nesta mudança, na qual a China e os Estados Unidos competem pela hegemonia, surge inerente um elemento ideacional que se acentuou com o coronavírus. A opinião pública global já há tempo que se apercebe de uma crescente influência de China na cena internacional. Já em 2017, se verificou um equilíbrio na imagem favorável entre a China e os Estados Unidos2. O mundo pergunta-se hoje se, apesar dos erros iniciais na gestão da crise, o poder normativo chinês aumentará ainda mais. O envio de equipamento sanitário e de médicos a países europeus, bem como a guerra informativa com os Estados Unidos sobre a origem do vírus, foram oportunamente instrumentalizados pelo regime chinês para melhorar a sua imagem face ao exterior. Assim, a China trata de equiparar a sua crescente proeminência material na ordem internacional com um melhor posicionamento no plano ideacional.
Após décadas de crise das democracias ocidentais, com o auge do liberalismo, do populismo e o recuo nacional no seu seio, a mudança da ordem ideacional parece consolidar-se. O Ocidente recalibra o ocidental-centrismo das ideias que regeram a ordem internacional, desde o final da Guerra Fria, em particular o inquestionável predomínio do liberalismo democrático e do mercado. O auge do autoritarismo capitalista da China supõe uma contraposição de base ao fim das ideologias que já proclamou Daniel Bell em 1960. Em boa medida, o modelo asiático que o coronavírus evidenciou resulta numa competição pelas ideias e os modelos políticos e sociais à escala global. As ideias dominantes até agora estão a tornar-se menos dogmáticas, algo que, para um Ocidente que se crê vencedor no plano normativo, pressupõe um banho de realidade.
“Um Ocidente estagnado no seu pensamento viu como a retracção nacional e a lógica do ‘meu país primeiro’ faziam desmoronar anos de predomínio construído em torno da promoção da democracia, do multilateralismo, do liberalismo e das sociedades abertas.”
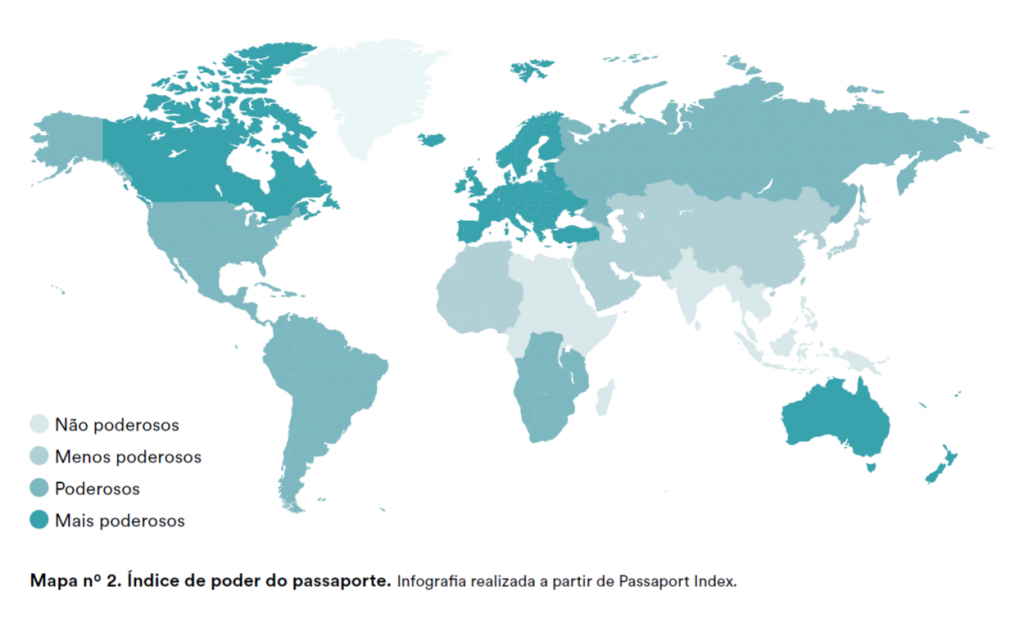
Durante os 20 anos do auge normativo do Ocidente (1989-2008), parecia que não havia alternativa ao predomínio internacional dos EUA, nem sequer à lógica pós-moderna por detrás da ideia da Europa. Isto traduziu-se numa certa autocomplacência, que com a crise económica implodiu sob a forma de populismo. Um Ocidente estagnado no seu pensamento viu como a retracção nacional e a lógica do “meu país primeiro” faziam desmoronar anos de predomínio construído em torno da promoção da democracia, do multilateralismo, do liberalismo e das sociedades abertas. O populismo converteu-se na grande alternativa à integralidade deste pensamento, por muito que as suas receitas dificilmente se pudessem materializar com êxito. Além disso, o populismo trouxe ao de cima que a igualdade de oportunidades e o bem-estar tinham sido relegados para segundo plano durante muitos anos.
Com a crise do coronavírus, emerge um novo modelo de contestação ideacional com predominância no Ocidente, ausente em muitos dos debates posteriores à Guerra Fria. Diferentemente do sucedido a partir do 11-S, a contestação não está circunscrita a narrativas baseadas numa concepção cultural, religiosa ou moral diferente e, em relação à crise financeira de 2008, coloca certos postulados da globalização em dúvida. Numa visão externa, perguntamo-nos até que ponto certas doses de hierarquia e sentido de comunidade permitem confrontar melhor uma crise como a do coronavírus. E numa visão interna, o populismo instrumentaliza a crise para enaltecer os benefícios da retração nacional, o fecho das fronteiras e os perigos de um mundo aberto.
O certo é que o coronavírus mostra também os limites do populismo, tanto no que se refere ao seguimento das recomendações dos peritos, bem como na centralidade das instituições enquanto veículo para a gestão e saída da crise. Os principais exponentes do populismo ocidental, Boris Johnson e Donald Trump, fizeram marcha atrás em relação aos seus posicionamentos iniciais no tratamento da pandemia. O primeiro, renunciando à lógica da “imunidade do rebanho” (herd immunity, que recomendava um contágio generalizado para fomentar a imunidade da população), contra a opinião dos peritos do Imperial College de Londres. E o segundo, perante a evidência das centenas de milhares de mortos nos Estados Unidos, que dinamitariam as suas possibilidades de ser reeleito, tanto quanto os danos económicos das medidas de confinamento.
Apesar de terem rectificado a sua posição, ambas as figuras conseguiram incentivar uma aproximação retórica e política concreta na luta contra o coronavírus. A híper liderança, a celeridade que requere a gestão da crise e o predomínio de líderes fortes na política internacional normalizam a gestão de líderes como Johnson e Trump, não obstante terem-se mostrado péssimos gestores na fase inicial. Assim o demonstram os inquéritos realizadas pouco depois do estalar da crise, que lhes deu um bom nível de apoio e popularidade e reforçou as suas expectativas eleitorais. O coronavírus move-se num terreno fértil, caracterizado pelo descrédito da política tradicional e das instituições, percepcionadas desde há tempo, por amplas camadas da população, como estando em falha sistémica. É pouco provável que o populismo desapareça passada a crise, como tampouco o farão os híperes líderes que o defendem. E, quanto mais alto seja o custo da crise, mais se pode enraizar a desconfiança institucional.
Parte da retórica e da agenda destinada à captura do poder do populismo pode vir a reforçar-se em lugares diversos. Na Hungria, o primeiro-ministro Viktor Orbán vê o estado de emergência como uma oportunidade para reforçar o seu poder, mais do que como uma medida temporária e proporcional. O Parlamento húngaro aprovou a 30 de março uma lei que permite a Orbán legislar por decreto durante um período indefinido de tempo, suspender o Parlamento enquanto dure o estado de emergência sem limite temporal, adiar eleições durante este período e endurecer as sentenças contra quem desinforme (leia-se contradiga) a versão oficial sobre a gestão da crise. Quer dizer, governar por decreto como mecanismo para reforçar o seu poder e descredibilizar a democracia, enquanto retira crédito da crise. Algo que Orbán já fez em 2015 com a crise dos refugiados e que o levou a declarar um estado de emergência ainda vigente e que prorroga agora indefinidamente.
4. Perspectivas para a cooperação internacional
A crise do coronavírus, somada às dinâmicas internacionais subjacentes, faz com que o sistema internacional enfrente o paradoxo de não poder voltar atrás, nem avançar com uma reforma da governação internacional. Por um lado, o Estado-nação viu-se reforçado com a gestão da crise devido às suas competências em matéria sanitária, de controlo de fronteiras e de planos de estímulo. Mas isto não equivale a uma diminuição do global nesta crise, começando pela pandemia em si e pela necessidade de um marco de cooperação internacional que facilite avançarmos em direcção à vacina. Portanto, e apesar de ser provável que certas dinâmicas de desglobalização na produção de bens sanitários, medicinais ou bens de consumo básicos se instaurem após a crise, não é expectável que o mundo de manhã deixe de ser globalizado, interconectado e interdependente. Um retrocesso absoluto rumo ao nacional não seria realista nem desejável.
Por outro lado, a lógica do “meu país primeiro” e as dinâmicas de soma zero, inclusive as ameaças de guerras comerciais, levam a governação internacional a um beco sem saída. Se o que se trata é de estabelecer marcos de cooperação mais eficazes, a retracção que fomentam os líderes das principais potências internacionais é contrária a qualquer reforma do sistema de governação internacional, para a qual também falta vontade política. Isto, somado aos consensos que requerem as reformas, levou muitas instituições internacionais a um ponto morto, desde a Organização Mundial do Comércio ao Conselho de Segurança das Nações Unidas, passando pelo Acordo do Clima de Paris e o de não proliferação nuclear no Irão.
Num contexto de rivalidade entre grandes potências, as organizações internacionais são instrumentalizadas e convertem-se num tabuleiro de jogo geopolítico por onde passa a competição. Muitos países, incluindo a Rússia e a China, preferem preservar uma ordem internacional obsoleta, mas que lhes possibilita manter a sua posição de poder. Portanto, e apesar de o nacional não ser suficiente para abordar objectivos globais como o coronavírus o a crise climática, tão pouco conseguimos tecer as cumplicidades e espírito de liderança necessários para um avanço efectivo da governação internacional.
Um novo “idealismo” internacional seria necessário para que a crise do coronavírus fosse abordada com uma visão de experiências positivas. Durante os anos 1930 e 1940, pouco depois de se ter afundado a disciplina das relações internacionais com o objectivo de estudar as causas da guerra, surgiu o primeiro grande debate entre “realistas” e “idealistas”. Os segundos, também pejorativamente classificados de “utopistas”, eram os que acreditavam na necessidade de se dotar de um quadro de cooperação internacional em que se torna impossível o advir de uma nova guerra, para a qual era necessária a (fracassada) “Sociedade das Nações” que promoveu Woodrow Wilson depois da Primeira Guerra Mundial. Os realistas eram aqueles que, baseados na obra de E. H. Carr “The Twenty Years’ Crisis”, consideravam os “idealistas” uns pacifistas moralistas, por não entenderem que os Estados sempre priorizaram o seu poder e sobrevivência num sistema internacional anárquico.
Os realistas de ontem são o “meu país primeiro” de hoje. Com a diferença que, devido à multipolaridade actual do sistema internacional, os níveis de interconexão e interdependência entre Estados superam em muito os posteriores à Primeira Guerra Mundial. O mundo antes e depois do coronavírus será um mundo em que continuarão a combinar-se as dinâmicas de poder entre as principais potencias internacionais, com a China em clara ascensão, com fortes dinâmicas de interconexão global. Não obstante, nenhuma potência terá capacidade suficiente para escrever, por si só, as regras de um novo reordenamento global, configurando aquilo que Ian Bremmer descreveu como um mundo (não)governado por G-Zero 3.
5. Outro desafio para a governação europeia
Neste contexto, a UE tem um desafio e uma responsabilidade notáveis. E é quando o mundo pára que à Europa pedimos velocidade. Depois de anos de crise, a UE mostrou as lacunas do seu sistema de governação e a lentidão dos seus mecanismos de gestão de crise e de tomada de decisões. Se a ordem liberal está em crise, a UE, como seu representante paradigmático, sofre na primeira pessoa a perseguição de potências exteriores como Rússia e China, o distanciamento por parte dos Estados Unidos e o questionamento interno por forças políticas eurocépticas de diferentes índoles.
Uma década de crise ininterrupta alterou a base da União. A crise do euro pôs em dúvida os alicerces da moeda única e a necessária reforma da união monetária ainda insuficiente o plano económico. A crise dos refugiados alterou a liberdade de movimentos e o espaço Schengen. O Brexit pôs fim à lógica de aprofundamento e ampliação continuada do projecto de construção europeia. E o coronavírus levou ao restabelecimento de barreiras internas, à limitação da mobilidade das pessoas, pôs em perigo o mercado único e demostrou a insuficiente capacidade de mobilização de recursos comuns para fazer frente à crise sanitária de e da economia. As crises internas da UE, somadas à instabilidade nos vizinhos a sul e a este, põem em causa desde há algum tempo a sua projecção externa e o perfil de “força para o bem” do sistema internacional 4.
”As dinâmicas de interdependência e híper-conectividade voltarão e, ao fazê-lo, revelarão que a cooperação efectiva à escala internacional é o melhor antídoto para crises como a do coronavírus.”

A UE fundou-se depois da guerra. Devido à sua gravidade, a crise do coronavírus não é uma guerra, mas sim uma emergência de saúde global, social e económica. Na sua gestão, a União passou por fases distintas. Em primeiro lugar, uma sensação de surpresa, sem capacidade por parte da UE de coordenar medidas, cuja responsabilidade recai, antes de mais, nos Estados membros (política de saúde ou controlo das fronteiras). Seguidamente, uma fase com uma série de desenvolvimentos alinhados com as dinâmicas actuais da política internacional (“o meu país primeiro”), traduzidas na limitação de exportações de material de saúde entre Estados membros, o fecho das fronteiras nacionais, somados a uma falta de coordenação no plano europeu das medidas tomadas pelos Estados.
Depois, a necessidade de articular uma resposta conjunta à crise, mediante a compra, no valor de 750 mil milhões de euros, de activos públicos e privados por parte do BCE; ou a salvaguarda dos benefícios do mercado único, com as medidas da Comissão para assegurar a distribuição de material médico a todos os Estados que o necessitassem. O conjunto de políticas da UE, que inclui um pacote de empréstimos de emergência e um futuro fundo de reconstrução, foi acordado no Conselho Europeu de 23 de abril. E finalmente, a sensação habitual de que a UE só sobreviverá se for capaz de se reformar profundamente – uma etapa em que a UE tende a encalhar e que neste caso passaria por uma mutualização da dívida (euro/coronabonds).
A médio prazo, a Europa deve recuperar a sua génese social, que é parte dos seus valores constitutivos, tanto como a criação de um mercado interno e o incentivo do Estado de direito. A Europa social ficou muito depauperada depois de anos de austeridade, pelo que a legitimidade de uma saída europeia para a crise passa também por progressos em matéria social e económica. Noutras palavras, passa por uma Europa que funcione e cuja legitimidade emana dos resultados e não só dos processos (imersos numa crise de governação) ou dos ideais (com o eurocepticismo a aumentar e uma ordem liberal refutada). Se a saúde e a segurança das pessoas ganharam centralidade num momento em que nos críamos infalíveis, será necessário que o projecto europeu proteja melhor os seus cidadãos e garanta progressos na construção social.
Em termos de valores, não teria muito sentido pensar que a Europa estimulará o esquema da China. Nem a Europa nem os seus cidadãos quererão renunciar aos seus valores fundamentais, razão pela qual não tem sentido equacionar que sistema político será melhor para enfrentar uma crise com estas características. Não renunciaremos às liberdades individuais em prole de um autoritarismo mais eficaz, pelo que a alternativa passa por uma Europa de instituições fortes e funcionais. Não obstante, a reforma da governação europeia não é imediata e isto aumenta a sensação de dessincronização entre a rapidez da crise e a nossa capacidade de resposta.
No plano operativo, é necessário voltar a uma lógica transaccional e de soma positiva. Para evitar o bloqueio e a fragmentação definitiva da UE, a discussão deve ir mais além da saída da crise do coronavírus e incorporar elementos de reforma e prioridades pendentes como o quadro financeiro plurianual, o Brexit ou a Europa digital. A lógica transaccional impor-se-á quando o âmbito de negociação for suficientemente generoso para ter alianças flexíveis entre Estados, evitando as tradicionais fraturas entre países devedores e credores, por exemplo.
Este pacto político para a Europa deverá incorporar mecanismos de solidariedade entre Estados, mas também deve evitar afundar-se em fracturas recorrentes desde a crise do euro. As novas alianças devem construir-se sobre a base de interesses partilhados, e não somente em função do número ou da categoria de Estados membros (norte, sul, fundadores, hanseáticos ou frugais, para utilizar categorias recorrentes). A carta assinada por nove Estados membros – de origens diversas e baseados nestes critérios – reclamando maiores doses de coordenação entre Estados, um instrumento de dívida comum e um ambicioso plano de recuperação económica é uma boa amostra disto.
A Europa continua a estar mais bem equipada que outras potências para fomentar uma ordem multilateral e cooperativa baseada em regras. As dinâmicas de interdependência e híper-conectividade voltarão e, ao fazê-lo, revelarão que a cooperação efectiva à escala internacional é o melhor antídoto para crises como a do coronavírus. Mas se fracassamos, a larga tradição de poder dos Estados impor-se-á como segunda melhor opção numa ordem internacional fragmentada.
Referências
1. Thomas Friedman (2005), The World is Flat. A Brief History of the Twenty-first Century, New York: Farrar, Straus and Giroux
2. Segundo Pew Research, em 2017 uns 49% respondiam ter uma visão favorável dos Estados Unidos e uns 47%, da China. Também crescia a perceção em muitos países de que China tem mais influência no mundo hoje do que há uma década.
3. Ian Bremmer (2012), Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World, London: Penguin Books.
4. O “force for good”, tal como então o caracterizou o antigo Alto Representante, Javier Solana. Véase Esther Barbé e Pol Morillas (2019), “The EU global strategy: the dynamics of a more politicized and politically integrated foreign
policy“, Cambridge Review of International Affairs, 32:6, 753-770, DOI: 10.1080 /09557571.2019.1588227.
* Este artigo foi actualizado em 28 de abril de 2020.
Artigo gentilmente cedido pela CIDOB – Barcelona Centre for International Affairs para esta edição; disponível em inglês e espanhol no site da CIDOB.

